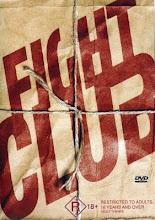(Imagem da Internet. Desconheço autoria)
OUTROS CRIMES EXEMPLARES (I.M)
* Conto válido como 3ª avaliação da disciplina Teoria da Literatura II - UFRN- 2011.
Então.OUTROS CRIMES EXEMPLARES (I.M)
* Conto válido como 3ª avaliação da disciplina Teoria da Literatura II - UFRN- 2011.
Essa é uma história antiga. Quer dizer, é mais ou menos antiga. Tem uns quarenta anos, por aí. Começa com Seu Benedito Romão.
O Seu Benedito era um comerciante dono de uma bodega muito sortida na Rua Antônio Garcia e morava com sua mãe numa casa em frente ao campo de futebol “José Avelino da Silva”, no bairro Paraíba, em Caicó. Era um senhor rechonchudo e simpático que costumava assobiar em meio ao seu ofício de vendedor. Gostava de uma roupa cáqui e as calças altas estavam sempre presas por um cinturão de couro marrom. Não se apartava do seu chapéu de feltro cinza. Tinha um jeito todo especial de embalar as coisas que vendia no estabelecimento. Por exemplo, ao embrulhar as bolachas secas, pegava uma folha de papel pardo, rasgava com uma régua de madeira, colocava-a sobre os pratos dourados da balança e, com uma caneca de zinco pontiaguda ia trazendo a massa aos pouquinhos, para que não ultrapassasse uma quarta – a clientela não comprava de meio ou de um quilo –, juntava o embrulho e ia torcendo o papel para produzir o fechamento, que ficava parecendo uma trança de cabelo como a que mãe fazia em mim.
Será que é necessário explicar a vocês o que é uma quarta de bolacha ou algo sobre a tal caneca de zinco? Melhor não. É preferível continuar com a história, porque essas digressões podem esticar demais as coisas e comprometer o relato, não é mesmo?
Antes eu preciso esclarecer que, pelo que sei, Seu Benedito, além da labuta semanal na bodega, aos sábados e aos domingos trabalhava vendendo seus produtos num ponto no Mercado Público, justo ao lado de onde ficava o sebo de livros do Zé Maria. Num desses dias de pouco movimento, ele, que nem era muito chegado a livro, decidiu sair e comprar um exemplar que lhe pareceu interessante. No fim da tarde, já em casa, sentou-se na sua espreguiçadeira e começou a leitura, enquanto sua esposa lhe trazia uma taça de vinho tinto e uma porção de queijo.
Tratava-se de um livro de contos intitulado Outros Crimes Exemplares. A primeira história se chamava “Cada um tem a Pasárgada que merece”. Eu até poderia relatar sumariamente a intriga, tal como me passaram, mas como tenho um volume da obra em casa, vou expor a coisa tim tim por tim tim:
“Estou pensando em ir embora, quero voltar para o meu torrão...”
Dia e noite era essa cantilena do meu marido Cazuzinha queixando-se que sentia saudades da sua terra, uma cidade praieira na grande Recife. Amiúde, tinha uns banzos medonhos relembrando dos amigos, das aventuras e bebedeiras, dos banhos de rio e de mar e das pescarias, dos sons da cidade, dos maracatus e dos frevos.
Sentia saudades de andar de bicicleta, dos dias ensolarados, das serestas na lua cheia, de montar em burro brabo, da festa do Bom Jesus dos Navegantes, da comida caseira e das histórias que a sua mãe contava.
Era um homem jovem e saudável e teria vivido muito, não fosse a estupidez de incluir no rol dos saudosismos a primeira e inesquecível namorada e as memoráveis farras com as meretrizes da cidade. Isso eu não suportei. Cheguei aos limites da tolerância. Qualquer uma no meu lugar faria o mesmo.
O vinho que preparei para ele naquele domingo de Páscoa potencializou o efeito do veneno e tudo não rendeu cinco minutos. Agora, ele escuta o som do silêncio e os carpidos de sua mãe, Dona Bia de Seu Cazuza. Justa que sou, permiti que fosse enterrado onde queria estar vivo. Cada um tem a pasárgada que merece.
É verdade que Seu Benedito ficou um pouco chocado com tal desfecho e com a patente frieza da personagem, mas talvez esse fato o tenha motivado ainda mais a retomar empolgado a leitura do segundo conto, “O triste fim de Inácio Moura”, que diz o seguinte:
Durante o velório do meu marido, encarei como uma estranha coincidência o reencontro com o Inácio Moura, um velho conhecido que havia se graduado em Natal e retornara à terrinha para ministrar aulas na universidade local. O acaso nos aproximou e, diante da indignação de minha ex-sogra e praticamente da cidade inteira, casei-me com ele três meses depois, numa cerimônia simples no Fórum Municipal, estabelecendo-me de vez no estado pernambucano.
Inácio era um escritor renomado e dentre suas obras figura a famosa tese de mestrado denominada A Última cantiga de ninar ao menino que se recusava a crescer, dedicada a mim e aos dois filhos que tive com o meu primeiro marido. Entretanto, o mais importante trabalho literário produzido por ele foi um livro que traz o título Outros Crimes Exemplares, motivo de orgulho para ele – e para mim, já que lhe dei a ideia de produzir contos cujos enredos girassem em torno de assassinatos cometidos por motivos fúteis. A obra foi lançada com sucesso em várias cidades país afora, em meio a muitas críticas positivas nas rodas de conversas literárias.
Ele produziu mais algumas obras importantes, inclusive a sua tese de doutorado, Patrimônio histórico do Sertão Potiguar, de cujo lançamento participei. O livro agora trazia uma dedicatória pomposa, não mais a mim, mas a sua orientadora de nome afrancesado, Sophie Cavagnac. E eu pergunto: é justo isso? Que ser humano poderia suportar tamanho despautério? Nós brindamos ao seu sucesso, mas aquele foi o último champagne que ele saboreou na vida. Reconheço, entretanto, a minha falha quanto à dosagem de veneno, o que lhe provocou um fim lento e doloroso. E disso eu sinto remorso. Afinal, ele era um bom homem e merecia uma morte abreviada.
Sua última obra, um livro de poesias chamado Brevidade das coisas: Poesias de I.M., foi publicada postumamente, em meio a grande clamor, dali a dois meses.
Nesse momento, Seu Benedito, indignado, não sabia se continuava a ler os demais contos ou se parava por ali mesmo. Olhou de relance para a esposa, que na cozinha preparava uns docinhos de festa e pensou que não custava nada ver até onde ia a ousadia do autor, qual absurdo viria pela frente e assim passou ao terceiro conto, intitulado “Festim Maldito” :
Apesar dos reveses pelos quais por vezes temos que passar, a vida continua e a solidão, dizem, não é algo para ser cultivado. Depois de alguns meses sozinha após a morte do meu marido, recentemente conheci um comerciante e nos apaixonamos. Mudei-me definitivamente para Caicó, casamo-nos e agora tenho uma vida feliz e harmoniosa, não fossem alguns hábitos irritantes que ele insiste em cultivar, como usar um chapéu démodé de feltro cinza, trabalhar sem descanso nos fins de semana e fazer fotos de túmulos no cemitério local, toda sexta-feira, impreterivelmente.
Sonolento, Seu Benedito fechou o livro sem terminar a leitura. Sua mulher já o chamava para que se recolhessem. Era tarde e ambos tinham muitos afazeres impontantes no dia seguinte.
E é como eu estava dizendo, esses fatos são antigos mesmo e acho que me foram contados por minha mãe, que esmiuçou a vida toda de Seu Benedito. Não esqueceu sequer de mencionar que o queijo que acompanhava o vinho chileno naquela remota tarde de domingo era de manteiga e derretido. Um detalhe até prescindível, porque em Caicó praticamente só se come esse queijo e sempre dessa forma.
Falou das circunstâncias em que ocorreu a morte do Seu Benedito, um rapaz velho que, como eu já citei antes, tinha uma bodega na tal rua, que se vestia assim, assim, que vivia com a velha mãe, Dona Isabel, até que conheceu uma mulher das bandas do Pernambuco, com dois filhos barbados a tiracolo, se enrabichou por ela e se casou, a despeito dos conselhos da família.
Ah, sobre a morte, consta que ele, durante um brinde na festa de suas Bodas de Papel, sofreu um ataque cardíaco fulminante e caiu mortinho. Nesse tempo se morria e pronto, estava acabado. Ninguém nem investigava o motivo real. A viúva, que não era mais viúva quando eu conheci esta história, tomou conta da bodega e nem chegou a aprender a embrulhar bolacha do jeito do Seu Benedito, por causa do desgraçado advento da sacola plástica, disseminada mundo afora que dará uma considerável contribuição ao fim da vida no planeta.
Foi o que mãe me contou. Como ela conhecia tantos detalhes? Ora, e eu lá vou saber? Nunca perguntei. O que eu sei é que ela sabia. Sabia e tá acabado. Mas vejam só, às vezes as coisas se embaralham um pouco na minha cabeça. Eu posso até admitir equívocos quanto à procedência dessa história. Teria eu escutado mesmo da minha mãe? Sei lá, talvez eu até tenha sonhado, porque eu também sonho. Ou, quem sabe, sejam resquícios guardados de umas conversas com minha amiga Agnes, que costuma ler Max Aub, Cortázar, Clarice, Borges e mais um montão de gente que tem o costume de escrever coisas assim... esquisitas.
E é só. Acabo aqui, porque já estou ficando muito enjoada dessa história.
Inês Mota
* Conto válido como 3ª avaliação da disciplina Teoria da Literatura II - UFRN- 2011.
Inês Mota
* Conto válido como 3ª avaliação da disciplina Teoria da Literatura II - UFRN- 2011.


























































.jpeg)










.jpg)


























































































.jpg)


























.jpg)